
Se a narrativa quase uniforme oferecida em uma série de livros recentes sobre “islamofobia” é para ser acreditada, os muçulmanos ocidentais, que desfrutam de liberdades negadas a seus irmãos na maioria dos lugares do mundo, estão sendo tiranizados por odiosos ocidentais brancos afligidos por um irracional ” fobia” do Islã e seus adeptos, o que os leva a reviver alegremente os crimes que seus ancestrais perpetraram nos séculos anteriores contra povos indígenas na África, Ásia e no hemisfério ocidental.
Nesses livros, os muçulmanos que vivem no Ocidente são as infelizes vítimas da opressão, e seus vizinhos não-muçulmanos são os eternos opressores. Conseqüentemente, esses opressores só podem se livrar de seu fardo de culpa civilizacional (e da punição que isso acarreta) confessando seus pecados (e os de seus ancestrais), engajando-se em atos de contrição e convertendo-se, seja ao próprio Islã ou a uma agenda política que concorda com os ataques islâmicos aos direitos historicamente concedidos aos cidadãos nas democracias ocidentais. Sob esse arranjo, os únicos direitos que precisam ser protegidos são os dos muçulmanos; os não-muçulmanos não têm direitos, apenas regras e responsabilidades.
Para evitar problemas com esse arranjo, os ocidentais não-muçulmanos devem oferecer elogios efusivos aos muçulmanos ou permanecer em silêncio sobre todas as coisas islâmicas. Eles devem concordar em ter seu discurso policiado por uma coalizão de islâmicos e seus companheiros políticos de esquerda e pelas instituições públicas que essa coalizão capturou ou tornou ineficazes. Para impor esse silêncio, os não-muçulmanos que ousam falar sobre a relação entre doutrina islâmica, islamismo e violência jihadista são agrupados com terroristas islâmicos que “entendem mal” ou “pervertem” sua fé e matam pessoas em seu nome. No ambiente de cabeça para baixo criado pela acusação de “islamofobia”, as pessoas que criticam o Islã, os muçulmanos, o islamismo ou a Shari’a precisam ser monitoradas tanto quanto – se não mais – os próprios islâmicos e jihadistas.
O jogo da culpa
O evento precipitante para a publicação desses recentes livros de “islamofobia” e a popularização da narrativa que eles oferecem parece ser a discussão franca, desenfreada e, em alguns casos, admitidamente hiperbólica sobre a violência islâmica e a imigração desregulada para os Estados Unidos que surgiu durante a campanha presidencial de Donald Trump em 2016. Os autores desses livros usam a acusação de “islamofobia” em um esforço transparente para colocar o gênio da liberdade de expressão sobre essas questões de volta na garrafa da qual escapou com a ascensão de Trump ao poder.
O desejo de acabar com a liberdade de expressão sobre a violência e opressão islâmica é evidente.
Esse desejo de acabar com a liberdade de expressão sobre a violência e a opressão islâmica é particularmente evidente em To Be Honest: Voices on Donald Trump’s Muslim Ban, de Sarah Beth Kaufman, uma peça cujo diálogo é baseado em entrevistas da vida real com moradores de San Antônio, Texas. “O choque da eleição de novembro de 2016… tornou uma peça sobre a retórica política em torno do Islã, raça e imigração ainda mais urgente”, escreve Stacey Connolly, uma estudiosa do teatro que ajudou a trazer a peça para o palco.
O diálogo na peça habilmente justapõe expressões de medo de não-muçulmanos em relação à violência islâmica com condenações de violência jihadista por muçulmanos piedosos e não violentos que nos dizem que esses problemas não têm nada a ver com o Islã. Grupos jihadistas que têm assassinado muçulmanos e não-muçulmanos “não são realmente muçulmanos”, declara um interlocutor muçulmano. “Não há nada na religião islâmica [para] fazer as pessoas se matarem.” A mensagem é que o problema não está nos jihadistas ou islâmicos, mas nos não-muçulmanos que temem desnecessariamente esses movimentos e os associam falsamente ao Islã. De acordo com essa lógica, não são os muçulmanos que precisam inventar novas maneiras de entender as tradições de sua fé, mas os ocidentais não-muçulmanos.
O esforço para colocar o ônus da autocrítica e da análise nos ocidentais, ocidentais brancos em particular, e proteger o Islã e os muçulmanos da crítica também está em exibição em Nothing Has to Make Sense, de Sherene Razack. O autor argumenta que os muçulmanos se tornaram “os monstros da civilização ocidental” e que a retórica e as políticas antimuçulmanas são uma tentativa de reformular e reforçar a identidade dos europeus, sitiados pela perda de seus impérios, e os brancos experimentando ansiedade pela perda de sua hegemonia nos Estados Unidos. Como resultado desse processo, “proliferam projetos genocidas contra os muçulmanos”.
Para demonstrar a proliferação de “projetos genocidas contra os muçulmanos”, Razack cita a guerra da Arábia Saudita no Iêmen e os flagrantes maus-tratos da China aos uigures. Isso, é claro, levanta a questão: como a violência perpetrada por muçulmanos sauditas e iemenitas no Oriente Médio e comunistas chineses na Ásia está enraizada na suposta “islamofobia” de europeus e norte-americanos?
Para Razack, a resposta é simples e direta: essas e outras manifestações de violência (por exemplo, hostilidade hindu em relação aos muçulmanos da Índia) fazem parte de um “sistema global de brancura”. A ironia é palpável. A autora de um texto alertando contra o fanatismo anti-muçulmano está se envolvendo em um ato de fanatismo ao postar uma cadeia causal contrafactual, tortuosa e complicada entre pessoas “brancas” na Europa e América do Norte e o sofrimento na Índia e no Iêmen, onde preciosos poucas pessoas “brancas” vivem.

Ataques à liberdade de expressão
A obsessão com a branquitude é particularmente evidente em The Muslim Problem, de Ismail Adam Patel, que retrata a “islamofobia” como uma resposta ao declínio do status dos brancos britânicos. Em sua alegação, as preocupações com a violenta reação muçulmana à publicação de The Satanic Verses de Salman Rushdie – que incluía a queima pública do livro na Grã-Bretanha, o assassinato e o ferimento de dezenas de pessoas no Paquistão e a emissão de uma fatwa para A morte de Rushdie pelo aiatolá Khomeini – falha em explicar suficientemente a “problematização” do “ativismo político muçulmano”. E para demonstrar que essas preocupações faziam parte de uma agenda britânica branca para manter a hegemonia sobre os antigos povos colonizados do extinto Império Britânico, Patel faria seus leitores ignorarem que os protestos anti-Rushdie na Grã-Bretanha faziam parte de um conflito muito maior e violento. ataque global ao direito à liberdade de expressão que teve um impacto real na vida intelectual no Ocidente nos anos seguintes. Como observa Robert Spencer em Islamofobia e a ameaça à liberdade de expressão, o tradutor japonês de Rushdie foi assassinado em 1991, e trinta e sete pessoas foram mortas em uma tentativa de incêndio criminoso contra o tradutor turco de Rushdie em 1993. Ainda em 2016 – quase duas décadas após a publicação de The Satanic Verses – um grupo de meios de comunicação no Irã levantou $ 600.000 para recompensar o potencial assassino de Rushdie de acordo com a fatwa de Khomeini de 1989. Não é de admirar que toda uma classe social de intelectuais europeus tenha sido levada a se esconder por “medo mortal, o medo de ser assassinado por fanáticos nas garras de uma ideologia bizarra”. Os atos de violência muçulmanos não são uma “fobia” – um medo irracional – nem uma expressão de fanatismo. É uma resposta perfeitamente razoável aos eventos testemunhados inúmeras vezes em escala global como parte de uma tentativa sistemática de “proibir a livre discussão do Islã” nas sociedades ocidentais (descrito por Daniel Pipes como “as regras de Rushdie”).
O medo provocado por atos muçulmanos de violência não é nem uma “fobia” nem uma expressão de fanatismo, mas uma resposta razoável.
Por outro lado, os cristãos não apenas não embarcaram em uma campanha global igualmente violenta contra as ofensas à sua fé, mas os líderes cristãos afirmaram a “ira” dos manifestantes muçulmanos. Em 2012, por exemplo, Olav Fykse Tveit, então secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, condenou o curta-metragem A Inocência dos Muçulmanos, que foi percebido por alguns muçulmanos como uma difamação do profeta islâmico Maomé e que havia sido usado como um pretexto para atacar embaixadas dos EUA em todo o mundo. Declarando o filme “gratuitamente ofensivo aos muçulmanos e à fé do Islã”, Tveit afirmou que a violência em resposta ao filme não era “a resposta apropriada” porque “faz o jogo daqueles que desejam fomentar a tensão” e poderia ” levam a estereótipos negativos dos muçulmanos e a um aumento da islamofobia”. Tveit não nomeou quem ele acreditava que desejava especificamente “fomentar a tensão”, mas sua declaração sugere fortemente que ele estava mais zangado – ou com menos medo – dos não-muçulmanos que fizeram o filme do que dos muçulmanos que se revoltaram em resposta ao seu lançamento.
Mais alarmante, a embaixadora dos EUA na ONU, Susan Rice, e o secretário de imprensa da Casa Branca, Jay Carney, culparam o filme pelo ataque de setembro de 2012 ao consulado dos EUA na cidade líbia de Benghazi por um afiliado local da Al-Qaeda – no décimo primeiro aniversário do 9 /11 ataques – nos quais o embaixador J. Christopher Stevens e três outros americanos foram mortos. Amplificando essa deturpação deliberada, o presidente Obama declarou um dia após o ataque: “Rejeitamos todos os esforços para denegrir as crenças religiosas de outras pessoas. Mas não há absolutamente nenhuma justificativa para esse tipo de violência sem sentido.” Tornando-se mais explícito duas semanas depois, ele disse: “Deixei claro que o governo dos Estados Unidos não teve nada a ver com este vídeo.”
É o racismo ocidental?
Igualmente equivocada é a afirmação de Maha Hilal em Inocente até Muçulmano Provado de que a “islamofobia” é “baseada na construção social do Islã como violento, bárbaro, incivilizado e oposto aos valores democráticos normativos”. Essa construção, argumenta Hilal, estabelece “a regra geral de que os muçulmanos não têm valor humano ou, pelo menos, nada que valha a pena preservar”. O autor então usa essa lógica para explicar alguns eventos verdadeiramente condenáveis e trágicos – como os maus-tratos de prisioneiros iraquianos em Abu Ghraib durante a invasão do Iraque em 2003, o assassinato de civis no Afeganistão por soldados americanos e mortes de civis em ataques de drones naquele país. país – como prova da intolerância ocidental.

Por mais insatisfatório que seja reconhecer que soldados às vezes cometem crimes de guerra e que civis são freqüentemente mortos em guerras, nem toda tragédia sofrida por muçulmanos nesses conflitos pode ser explicada por fanatismo. Em vez de uma manifestação de “islamofobia”, as invasões do Afeganistão e do Iraque foram uma resposta ao 11 de setembro, um ataque jihadista que traumatizou o povo americano (e milhões em todo o mundo). Essas invasões também não foram um ataque deliberado aos muçulmanos e ao Islã, pela razão óbvia de que a coalizão de guerra liderada pelos EUA incluía uma série de estados muçulmanos (Turquia, Albânia, Kuwait, Azerbaijão e Uzbequistão, para citar alguns), assim como o A libertação do Kuwait liderada pelos Estados Unidos uma década antes compreendeu uma variedade de nações cristãs e muçulmanas.
Um pouco de auto-reflexão por parte dos intelectuais muçulmanos sobre as consequências do 11 de setembro – e outros ultrajes jihadistas – ajudaria muito a contextualizar o medo que algumas pessoas têm do radicalismo islâmico e dos muçulmanos. Mas no livro de Hilal, auto-reflexão e auto-correção são reservadas apenas para não-muçulmanos e não-muçulmanos. Isso fica evidente quando ela se ofende com o apelo de Obama aos muçulmanos para enfrentar o extremismo após o ataque jihadista de San Bernardino em dezembro de 2015, no qual (ela afirma) o presidente condicionou a incorporação dos muçulmanos americanos à comunidade moral dos Estados Unidos ao se tornarem “participantes voluntários”. na luta contra o terrorismo”. Ela lamenta,
Sua inclusão também depende da aceitação da ideia de que a radicalização é um problema generalizado exclusivo de sua comunidade.
Se Hilal tivesse prestado mais atenção à exortação de Obama, ela facilmente teria percebido que ele fez um grande esforço para dissociar o Islã e os muçulmanos da atrocidade de San Bernardino. De acordo com Obama, o ISIS “não fala pelo Islã” e os jihadistas “são uma pequena fração de mais de um bilhão de muçulmanos em todo o mundo – incluindo milhões de patriotas muçulmanos americanos que rejeitam sua odiosa ideologia”. Ele também afirmou que é responsabilidade de todos os americanos – de todas as religiões – rejeitar a discriminação… Os muçulmanos americanos são nossos amigos e vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos heróis esportivos – e, sim, eles são nossos homens e mulheres de uniforme que são dispostos a morrer em defesa do nosso país. Temos que nos lembrar disso.
Mais uma vez, a ironia é palpável. O autor de um livro exigindo que os muçulmanos recebam os frutos do contrato social que sustenta as democracias ocidentais descaracteriza a esperançosa expectativa de Obama de que os muçulmanos desfrutariam dos frutos desse contrato social – e o defenderiam – como um ato de opressão. Martin Luther King foi um herói por convidar os brancos a serem guiados por seus anjos superiores ao recrutar sua ajuda para derrotar o racismo branco durante o movimento pelos direitos civis, mas quando o presidente Obama tenta alistar a ajuda dos muçulmanos na luta contra o extremismo em sua comunidade, é mal interpretado como um exemplo de opressão antimuçulmana.
É violência islâmica?
Nesse sentido, The Terror Trap, uma compilação de ensaios de uma coalizão de organizações muçulmanas com laços islâmicos (alguns com raízes na Irmandade Muçulmana e Jamaat-e-Islami) exibe semelhante obtusidade, desta vez sobre o impacto do 11 de setembro (e outros atos de violência muçulmana) nas atitudes americanas em relação ao Islã e aos muçulmanos. Embora o livro reconheça brevemente o trauma causado pelo 11 de setembro, ele retrata a caça aos terroristas em seu rastro como uma recapitulação da escravidão e do racismo antinegro. Como os policiais (cujos antecedentes eram “caçadores de escravos”) sabiam como oprimir os negros, o jornalista Adam Hudson afirma que não foi difícil para o governo dos EUA colocá-los contra os árabes e muçulmanos após o 11 de setembro em nome da luta contra o terrorismo.
Um livro retrata a caça aos terroristas após o 11 de setembro como uma recapitulação da escravidão e do racismo antinegro.
O resultado dessa lógica é que quando os americanos (e membros de outras democracias ocidentais) tentam se proteger do terrorismo islâmico ou defender suas liberdades da invasão da Shari’a, suas ações são uma repetição de todas as coisas ruins que esses países fizeram em passado – não uma resposta às circunstâncias atuais.
Em contraste, outra coleção de ensaios, Islamofobia e Atos de Violência, editada por Carolyn Turpin-Petrosino, oferece um reconhecimento oblíquo e relutante de que “Islamofobia” é uma resposta a atos de violência perpetrados por muçulmanos.
Em um capítulo intitulado “Tendências e catalisadores de crimes de ódio anti-muçulmanos e atitudes preconceituosas: uma análise multidécada”, Brian Levin relata que os picos de crimes de ódio anti-muçulmanos correspondem a “eventos catalíticos, como os ataques de 11 de setembro e zombarias políticas declarações e referências da mídia ligadas a esses eventos.” Ele acrescenta ainda que crimes de ódio contra muçulmanos “aumentaram contemporaneamente contra muçulmanos” após o ataque de San Bernardino, o massacre de junho de 2016 em Orlando por um perpetrador que jurou lealdade ao líder do ISIS e a retórica de Trump em torno de sua proposta de proibição de viagens contra sete países predominantemente muçulmanos.
Curiosamente, Levin observa que o período dos ataques de 11 de setembro em 2001 ainda continua sendo um ano recorde, não apenas para todos os crimes de ódio islamofóbicos, mas também para crimes de ódio em geral nos Estados Unidos.
Isso levanta a questão se foi a “islamofobia” que alimentou a alegada violência anti-muçulmana ou se foi um sentimento geral de desordem precipitado pelos ataques de 11 de setembro que alimentou a violência contra todos os grupos minoritários.
É preciso uma leitura cuidadosa, mas o capítulo de Levin revela que os ataques contra muçulmanos nos Estados Unidos permanecem, em termos absolutos, bastante baixos e que, quando ocorrem picos, é após ataques perpetrados por muçulmanos no país. Em outras palavras, a “islamofobia” e a violência a que ela dá licença são alimentadas pela violência jihadista – não pela existência de uma “rede americana de islamofobia” condenada em outras partes do livro.
Com o capítulo de Levin, o ciclo vicioso é exposto. Alguns muçulmanos se envolvem em terríveis atos de violência, inspirando medo por parte de muçulmanos e não-muçulmanos. Então, quando esse medo se manifesta, outros muçulmanos e seus aliados de esquerda, como o próprio Levin, condenam as pessoas por terem medo inevitável.
Os islâmicos radicais querem que as pessoas tenham medo do Islã e de seus adeptos.
A própria Turpin-Petrosino reconhece esse ponto no capítulo final, onde retrata a “islamofobia” como um “resultado sardônico em relação à perversão do islamismo por islâmicos radicais”. Atos de violência perpetrados por essas pessoas, relata ela, “provavelmente fortalecem, a cada ato de terrorismo que cometem, a justificativa para a islamofobia e o sentimento anti-muçulmano expresso no mundo não-muçulmano”. O que ela não admite, no entanto, é que os islâmicos radicais querem que as pessoas tenham medo do Islã e de seus adeptos na esperança de forçar os não-muçulmanos a se converterem ou se submeterem a um regime de supremacia islâmica. E o nivelamento constante da acusação de “islamofobia” alimenta essa estratégia, fazendo com que as pessoas tenham medo até mesmo de falar sobre o problema.
Para seu crédito, Turpin-Petrosino admite que “as ações de extremistas alimentam a suspeita em relação ao Islã e impedem seu reconhecimento como uma religião equivalente ao judaísmo e ao cristianismo”, e que as vítimas mais prováveis da violência islâmica são os próprios muçulmanos. Com essas admissões, no entanto, ela inadvertidamente revela que a acusação de “islamofobia” é o que sempre foi – uma acusação falsa destinada a colocar o Islã em uma categoria separada, onde seus princípios e o comportamento de seus adeptos são protegidos de críticas e escrutínio.
Proibição de escrutínio

Nenhuma religião além do Islã recebe tal proteção no Ocidente na era moderna. Cristãos e não-cristãos têm documentado a opressão violenta do Cristianismo sobre judeus e mulheres por décadas sem sanção da academia, da mídia ou de autoridades públicas. De fato, as críticas levantadas nesses múltiplos textos tornaram-se temas dominantes do discurso na academia e serviram de base para carreiras docentes (e ativistas). Mas as críticas ao Islã são retratadas como ataques fanáticos à fé e seus seguidores com consequências no mundo real, incluindo a morte, para seus autores.
Os esforços para silenciar qualquer discussão sobre o Islã através da farsa da “islamofobia” são levados a um extremo absurdo no volume editado de Peter Morey, Contesting Islamophobia. Responsabilizando Martin Amis por “Os Últimos Dias de Muhammad Atta”, um conto publicado no New Yorker em 2006 e republicado em uma coleção de ficção e não-ficção em 2008, os colaboradores Nath Aldalala’a e Geoffrey Nash afirmam que
A versão de Amis da história de Muhammad Atta serve para elevar o líder terrorista ao nível de uma personificação de todo o terrorismo islâmico, ao mesmo tempo, confundindo Islã e islamismo e flexionando a narrativa com um viés secular. Amis simplesmente não está interessado no aspecto religioso da personalidade de Atta.
Para piorar a situação, os autores afirmam:
Amis inscreveu Atta como um objeto adequado de ódio, eliminando dimensões religiosas e culturais de seu personagem para torná-lo um monomaníaco apaixonado por matar.
Percorrer esse latino pós-moderno revela uma contradição marcante. Por um lado, os autores ficam ofendidos porque Amis coloca o crime de Atta em um contexto muçulmano, enquanto, por outro, ficam ofendidos porque Amis não está interessado no “aspecto religioso da personalidade de Atta” e o retrata não como uma figura religiosa, mas como apenas um assassino niilista.
Como podemos falar sobre o 11 de setembro e os ataques subseqüentes? A resposta? “Não fale sobre isso.”
Ao contrário da peça de Kaufman, que afirma que a violência jihadista não tem nada a ver com o Islã, neste ensaio, Amis é censurado por retratar um assassino jihadista como ateu e apóstata do Islã sem nenhuma evidência. Qual é? Como devemos falar sobre o 11 de setembro e os ataques subsequentes? Como tendo algo a ver com o Islã, ou como não tendo nada a ver com a fé? A resposta é: “Não fale sobre isso.”
Pode ser útil ver o silêncio sobre o Islã exigido por aqueles que nivelam a acusação de “islamofobia” como o equivalente moderno do fechamento da “porta da interpretação” e a consequente imposição de um regime de taqlid, ou “aceitação inquestionável à autoridade.” Mustafa Aykol relata que este uso do poder coercitivo para manter os muçulmanos na linha enfraquece “sociedades muçulmanas, que não aprendem a responder às críticas com razão e civilidade.” De forma alarmante, este poder coercitivo é agora sendo implantado em ambientes de minorias muçulmanas nas maiorias não-muçulmanas por islâmicos e seus aliados de esquerda.
Essa opressão intelectual foi fortemente ilustrada em Alberta, Canadá, quando, em julho de 2022, um membro do Novo Partido Democrata convocou o recém-nomeado Collin May a renunciar ao cargo de chefe da Comissão e Tribunais de Direitos Humanos de Alberta por causa de comentários críticos que ele fez sobre o Islã. em uma revisão do Imperialismo Islâmico: Uma História de Efraim Karsh. O Conselho Nacional de Muçulmanos Canadenses adotou uma abordagem mais suave, supostamente “trabalhando com May para garantir que ele sirva melhor às comunidades muçulmanas”. Em resposta à controvérsia, May afirmou que entendeu errado sobre o Islã “especialmente à luz de importantes estudos recentes e diversos que estão trabalhando para superar equívocos sobre a história e a filosofia muçulmanas”.
A flagelação de May – aparente contrição e reabilitação – remonta aos confessionários do Partido Comunista Chinês e aos julgamentos de heresia na Europa medieval, nos quais as autoridades eclesiásticas faziam as acusações e entregavam o réu às autoridades temporais que aplicavam a punição. É um medievalismo invasor feito com a ajuda de progressistas.
Em seu estimulante e bem documentado Islamofobia e a ameaça à liberdade de expressão, Robert Spencer reconhece que, para alguns observadores, a coalizão de islâmicos e esquerdistas é um exemplo de como a política cria estranhos companheiros de cama porque um grupo quer impor um “código moral repressivo” enquanto o outro promove “uma libertinagem moral”. Ele explica,
O que une esses aliados improváveis [é] um gosto compartilhado pelo autoritarismo. Ambas as partes querem sufocar a dissidência. E ao fazer isso, ambos se encontram lutando contra os mesmos inimigos. Por que não unir forças?
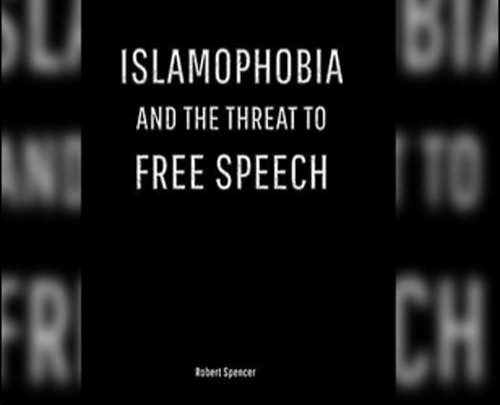
Spencer, que foi alvo de violência islâmica em Garland, Texas, em 2015 e uma tentativa de envenenamento em 2017 por esquerdistas na Islândia ofendidos por seus escritos sobre o Islã, escreve com autoridade sobre como os não-muçulmanos “se tornaram o principais aplicadores das leis de blasfêmia da Sharia no Ocidente.” Por exemplo, a ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, apoiou a aprovação da Resolução 16/18 da ONU no Conselho de Direitos Humanos. Essa resolução, apresentada pela Organização da Conferência Islâmica, exortava os países a proibir o discurso que promovia a “difamação da religião” – um claro ataque à liberdade de expressão.
Ele também documenta como Nakoula Basseley Nakoula, o cineasta que produziu A Inocência dos Muçulmanos em 2012, foi punido pelos tumultos que seu filme “causou”. Spencer relata:
Em 2010, Nakoula foi condenado a 21 meses de prisão por fraude em cheques, e uma das condições de sua liberdade condicional era que ele acessasse a Internet apenas com a permissão de seu oficial de condicional. A inocência dos muçulmanos no YouTube foi tomada como prova de que Nakoula havia violado os termos de sua liberdade condicional, e ele foi devidamente preso, acusado de oito acusações de violação de liberdade condicional e colocado na prisão sem a oportunidade de ser libertado sob fiança. Ele foi declarado um “perigo para a comunidade”. Ele cumpriu um ano de prisão.
Este é um ato de tirania em defesa de uma tradição religiosa e de uma comunidade que precisa urgentemente de reforma.
Conclusão
Todos esses livros juntos revelam como, sob o regime de “islamofobia”, religiões, ideologias e instituições enraizadas na tradição ocidental são forçadas a tolerar críticas fulminantes, mas qualquer coisa enraizada no Islã é protegida de escrutínio ou crítica. O fato de intelectuais muçulmanos proeminentes exigirem tal proteção para sua comunidade religiosa indica uma insegurança preocupante sobre a capacidade do Islã de sobreviver no mercado de ideias que, apesar dos melhores esforços de islâmicos e esquerdistas, permanece, por enquanto, vivo nas democracias ocidentais.
Dexter Van Zile é editor-chefe da Focus on Western Islamism.
Publicado em 24/02/2023 06h08
Artigo original:


